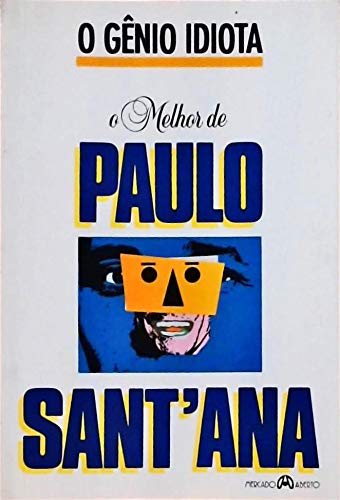80 anos de Luzair Costa
Heraldo Costa – juiz de Direito
Hoje, dia 11 de janeiro de 2022, se viva fosse, minha mãe faria 80 anos. Seria um dia de muitas emoções e alegrias.
Os manos estariam correndo para concluir suas atividades para, de noite, cantarmos parabéns para nossa rainha.
Não que durante o dia os filhos já não tivessem passado pela casa dela no café da manhã, almoço e café da tarde, alguns adiantando os abraços, beijos e presentes, ante a impossibilidade de alguns não poderem comparecer à noite.
 O evento era simples, como de fato era a aniversariante. Não precisava de comidas e presentes caros para vê-la radiante num dos seus vestidos guardados especialmente para aquela ocasião.
O evento era simples, como de fato era a aniversariante. Não precisava de comidas e presentes caros para vê-la radiante num dos seus vestidos guardados especialmente para aquela ocasião.
Lembro de uma vez que fomos a um restaurante. Ela ficou muito feliz mas notei uma ponta de preocupação. Perguntei se não havia gostado e ela disse que tudo estava lindo, mas estava preocupada em dar uma despesa tão grande para tanta comida.
Mas na verdade, minha mãe, você nunca deu despesa, pois durante toda sua vida você só deu amor, cuidado e atenção.
Sua vida foi repleta de preocupações com os outros, que toda a nossa preocupação com você, não chegou nem perto da sua.
Mas a festa sempre era bonita pra ela. A casa ficava cheia. Familiares e amigos, conhecidos e desconhecidos. Gente simples e importante, sempre dava o ar da graça em seus aniversários.
E depois de tantos elogios, sabíamos que a fala da aniversariante seria de poucas palavras, mas regadas de muitas lágrimas de gratidão. Sempre após agradecer a Deus e a todos, falava que não merecia tudo aquilo que estavam fazendo.
 Merecia sim, minha mãe. Se uma pessoa nesta terra mereceu todos os afagos, elogios e homenagens, essa pessoa foi você.
Merecia sim, minha mãe. Se uma pessoa nesta terra mereceu todos os afagos, elogios e homenagens, essa pessoa foi você.
Há uma expressão bíblica no capítulo onze do livro bíblico de Hebreus que diz que as obras boas de Abel, mesmo depois de morto, ainda falam.
As suas obras, minha querida mãe, mesmo depois da sua morte continuam falando por você, pois, quanto mais nos distanciamos no tempo da partida da pessoa amada, podemos esquecer de sua fisionomia e de sua voz, mas nunca esquecemos do seu caráter.
Siga em paz minha mãe, no seu caminho espiritual.
Feliz aniversário e obrigado pelo tempo que nos deu o privilégio de palmilhar com você neste plano terrestre.
 Quando chego a Macapá sinto um terremoto
Quando chego a Macapá sinto um terremoto